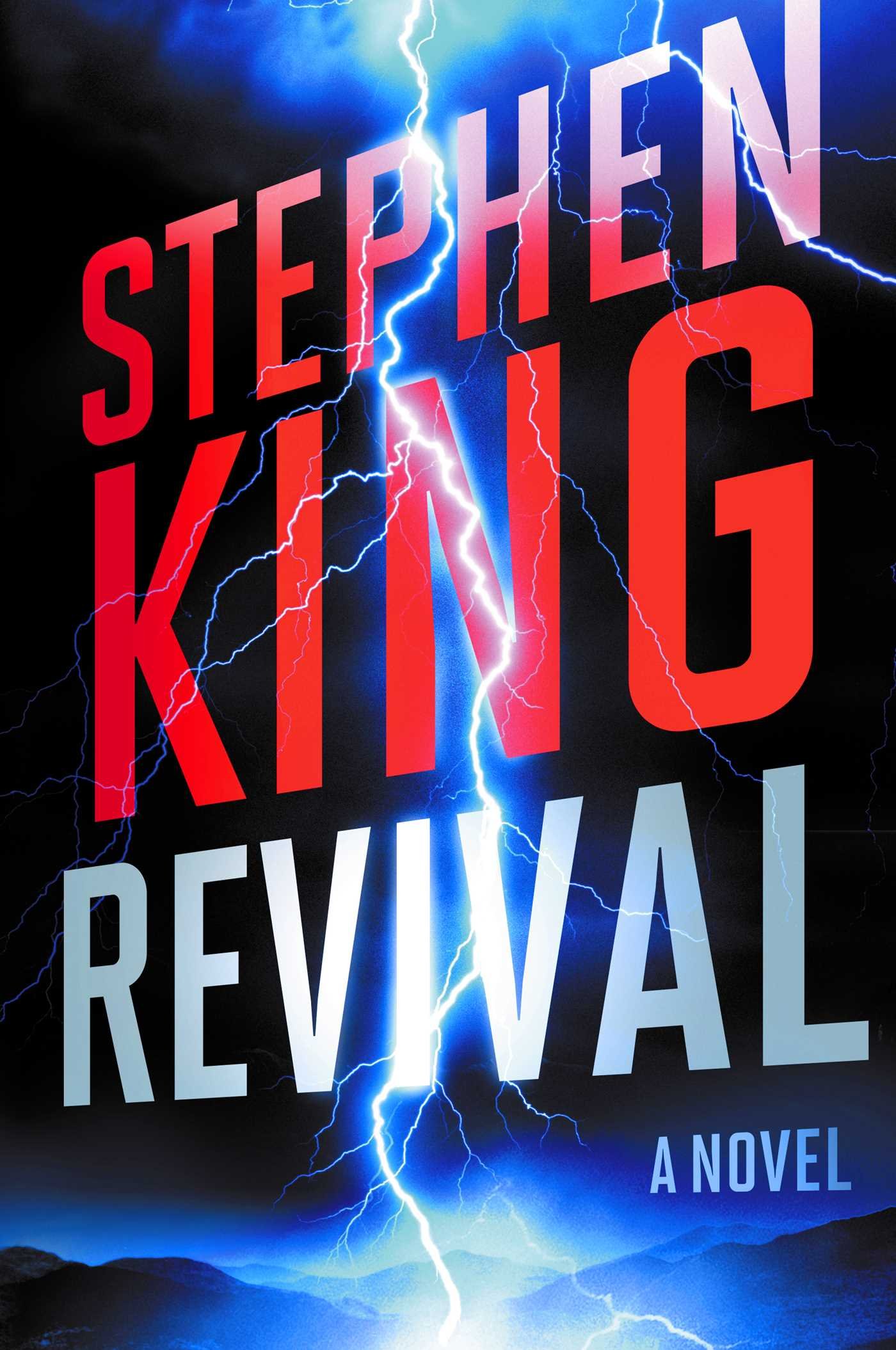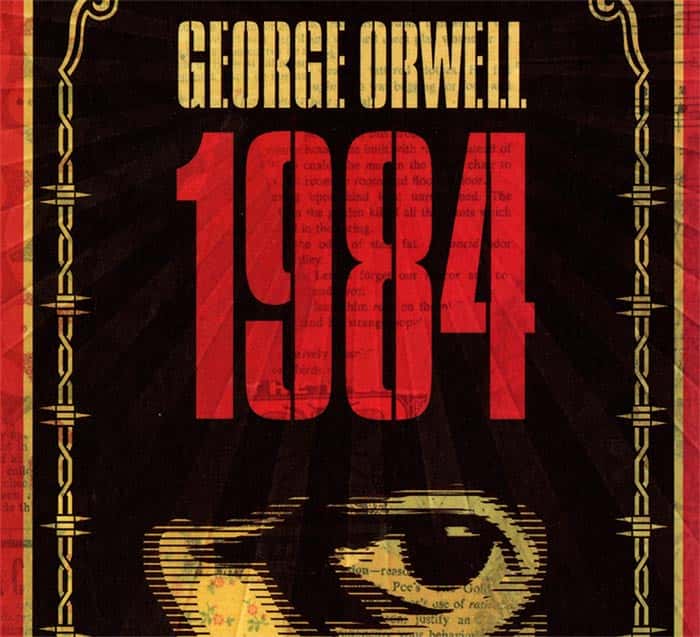Salvador e a criação capitalista do mito nacional
Salvador Puig Antich (Daniel Brühl), jovem catalão, anarquista e militante do MIL (Movimiento Ibérico de Libertación) - uma organização que arrecadava dinheiro por meio de assaltos a bancos para o movimento operário. No decorrer da operação de captura de Salvador e de integrantes do grupo, ocorre um tiroteio que resulta na morte de um policial. Julgado por um conselho de guerra Salvador é condenado à morte por garrote vil, arma de tortura medieval na qual a pessoa tem seu pescoço esmagado até a morte.
A sinopse acima não dá a pálida idéia de como Salvador, película dirigida por Manuel Huerga e baseado no livro de Francesc Escribano ‘Cuenta atrás. La historia de Salvador Puig Antich’, é problemático. Huerga constrói um filme que parte de um erro histórico: o MIL não era um movimento de oposição anti-franquista e sim um movimento anticapitalista que, por conseguinte, era anti-franquista. Este erro é importante porque, a partir dele, é construída a imagem fílmica de Puig Antich. Para a película ele é um jovem que, como tantos outros, lutava contra a ditadura de Francisco Franco e não, primeiramente, contra o capitalismo e a favor de uma sociedade sem classes. Além disso, o filme ignora e esvazia completamente o Movimiento Ibérico de Libertación, não mostrando cenas que refletem a realidade cotidiana da maioria da população trabalhadora, assim como nenhuma cena vinculada a seus protestos. Para terminar, os integrantes do MIL são mostrados como playboys que assaltam bancos por diversão e que não sabem nem sabem por que lutam, pois na hora de ler o motivo de sua luta dão risada do tal documento!
Os problemas citados acima são apenas os políticos. Além desses, o filme sofre pelo excesso de melodrama que é adicionado e pelo excesso de humanização dos personagens, inclusive de Puig Antich. As cenas de sexo são dispensáveis, a ‘grande’ amizade que ele faz com um guarda (Jesus, interpretado por Leonardo Sbaraglia) é inverossímil (bem como a revolta deste quando da execução de Salvador) e os maneirismos do diretor são evidentes. Fica claro que o capitalismo, representado neste caso pelas empresas patrocinadoras do filme, não gostaria de um filme que combatesse o próprio capitalismo. O capitalismo desejava a criação de um herói, um mito nacional que primeiramente (e seriamente) lutava contra Franco e só posterior, e muito ralamente, por uma sociedade sem classes. Puig antich é tão herói que nem tem coragem de assaltar os bancos, ficando assim como motorista do grupo. Ou seja, o capitalismo (o filme) apreende os acontecimentos (Revoluções?), mastiga, rumina e nos devolve algo politicamente correto, mas politicamente inativo. Não se trata de nenhum tipo de antipatia por Puig Antich: ele foi e ainde é um marco importante na história espanhola, assim como o grupo do qual fazia parte; o problema está tão somente nesta sua criação fílmica específica.
Este filme pode ser trabalhado por professores primeiramente para mostrar “o que aconteceu na história?” (a ditadura espanhola e uma das formas de reação a ela, a ação direta) e também pode ser usado para a criação do espírito crítico nos alunos, mostrando que a história (ou pessoas na história) são frutos da imaginação e do discurso, seja no cinema, seja nos livros.
Nome: Salvador
Gênero: Drama
Ano/Produção: 2006/Espanha
Duração: 128 min.
Diretor: Manuel Huerga
Elenco: Daniel Brühl, Tristán Ulloa, Leonardo Sbaraglia, Leonor Watling
Distribuição: Europa Filmes, cópias dubladas e legendadas.
Material de Apoio:
* DOMÍNGUEZ RAMA, Ana “Salvador (Puig Antich) en el Viejo Mundo. Algunas consideraciones históricas respecto a su recuperación mediática” in Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea. Número 7 (2007).
* http://www.salvadorfilm.com
* http://www.salvadorpuigantich.info
Salvador Puig Antich (Daniel Brühl), jovem catalão, anarquista e militante do MIL (Movimiento Ibérico de Libertación) - uma organização que arrecadava dinheiro por meio de assaltos a bancos para o movimento operário. No decorrer da operação de captura de Salvador e de integrantes do grupo, ocorre um tiroteio que resulta na morte de um policial. Julgado por um conselho de guerra Salvador é condenado à morte por garrote vil, arma de tortura medieval na qual a pessoa tem seu pescoço esmagado até a morte.
A sinopse acima não dá a pálida idéia de como Salvador, película dirigida por Manuel Huerga e baseado no livro de Francesc Escribano ‘Cuenta atrás. La historia de Salvador Puig Antich’, é problemático. Huerga constrói um filme que parte de um erro histórico: o MIL não era um movimento de oposição anti-franquista e sim um movimento anticapitalista que, por conseguinte, era anti-franquista. Este erro é importante porque, a partir dele, é construída a imagem fílmica de Puig Antich. Para a película ele é um jovem que, como tantos outros, lutava contra a ditadura de Francisco Franco e não, primeiramente, contra o capitalismo e a favor de uma sociedade sem classes. Além disso, o filme ignora e esvazia completamente o Movimiento Ibérico de Libertación, não mostrando cenas que refletem a realidade cotidiana da maioria da população trabalhadora, assim como nenhuma cena vinculada a seus protestos. Para terminar, os integrantes do MIL são mostrados como playboys que assaltam bancos por diversão e que não sabem nem sabem por que lutam, pois na hora de ler o motivo de sua luta dão risada do tal documento!
Os problemas citados acima são apenas os políticos. Além desses, o filme sofre pelo excesso de melodrama que é adicionado e pelo excesso de humanização dos personagens, inclusive de Puig Antich. As cenas de sexo são dispensáveis, a ‘grande’ amizade que ele faz com um guarda (Jesus, interpretado por Leonardo Sbaraglia) é inverossímil (bem como a revolta deste quando da execução de Salvador) e os maneirismos do diretor são evidentes. Fica claro que o capitalismo, representado neste caso pelas empresas patrocinadoras do filme, não gostaria de um filme que combatesse o próprio capitalismo. O capitalismo desejava a criação de um herói, um mito nacional que primeiramente (e seriamente) lutava contra Franco e só posterior, e muito ralamente, por uma sociedade sem classes. Puig antich é tão herói que nem tem coragem de assaltar os bancos, ficando assim como motorista do grupo. Ou seja, o capitalismo (o filme) apreende os acontecimentos (Revoluções?), mastiga, rumina e nos devolve algo politicamente correto, mas politicamente inativo. Não se trata de nenhum tipo de antipatia por Puig Antich: ele foi e ainde é um marco importante na história espanhola, assim como o grupo do qual fazia parte; o problema está tão somente nesta sua criação fílmica específica.
Este filme pode ser trabalhado por professores primeiramente para mostrar “o que aconteceu na história?” (a ditadura espanhola e uma das formas de reação a ela, a ação direta) e também pode ser usado para a criação do espírito crítico nos alunos, mostrando que a história (ou pessoas na história) são frutos da imaginação e do discurso, seja no cinema, seja nos livros.
Nome: Salvador
Gênero: Drama
Ano/Produção: 2006/Espanha
Duração: 128 min.
Diretor: Manuel Huerga
Elenco: Daniel Brühl, Tristán Ulloa, Leonardo Sbaraglia, Leonor Watling
Distribuição: Europa Filmes, cópias dubladas e legendadas.
Material de Apoio:
* DOMÍNGUEZ RAMA, Ana “Salvador (Puig Antich) en el Viejo Mundo. Algunas consideraciones históricas respecto a su recuperación mediática” in Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea. Número 7 (2007).
* http://www.salvadorfilm.com
* http://www.salvadorpuigantich.info